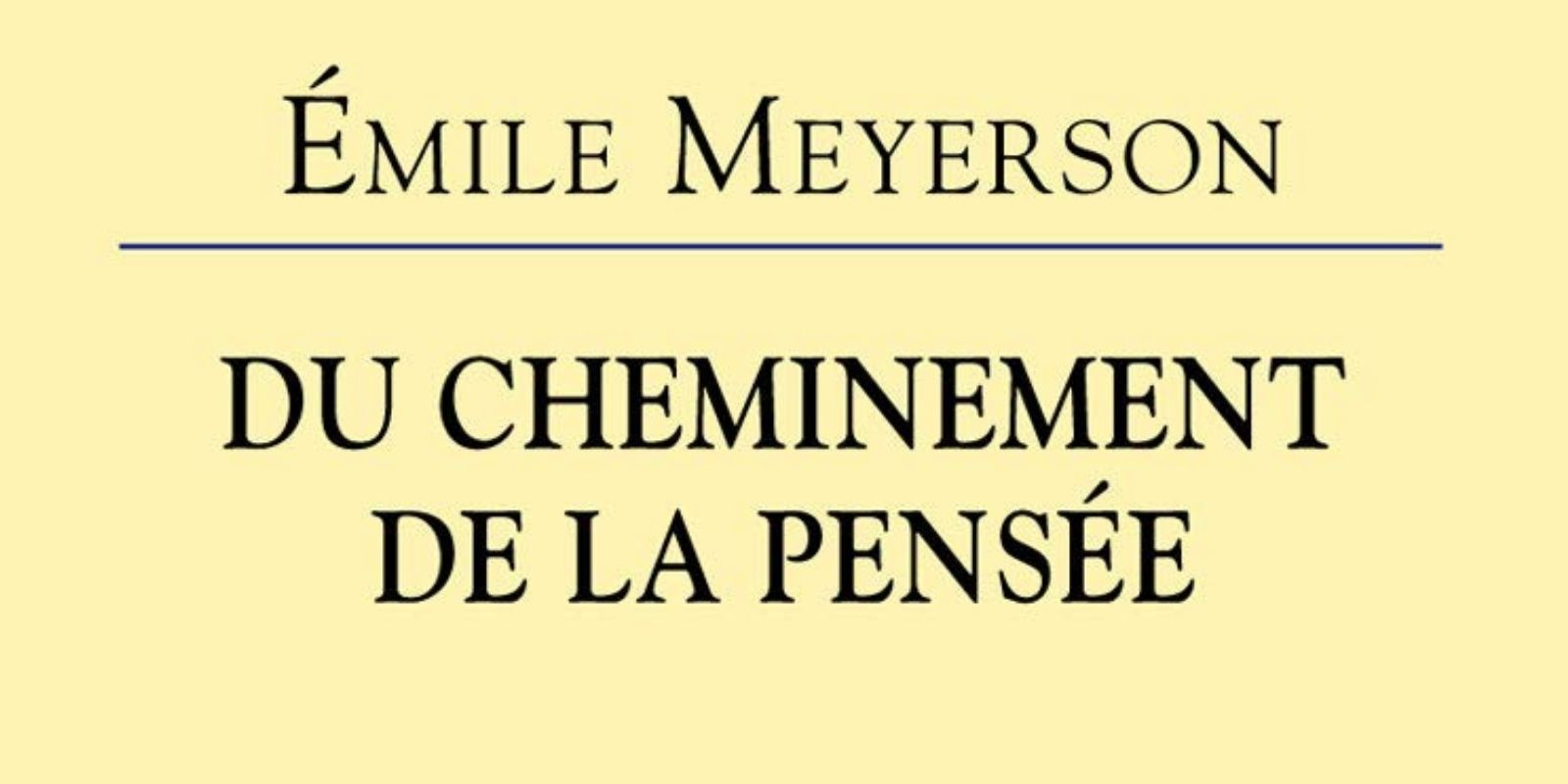Para fazer o download do texto original em francês clique aqui.
O novo livro do senhor Meyerson prossegue, ampliando e aprofundado a investigação que conduz há mais de quarenta anos. As etapas são bem conhecidas: Identité et Réalité, De l’explication dans les sciences e La déduction relativiste. O assunto não mudou: o senhor Meyerson sempre visa um estudo do funcionamento do pensamento, uma definição do intellectus ipse ou, caso seja preferível, uma crítica da razão pura.
O método é sempre o mesmo: desafiando-se na análise direta do pensamento em sua própria atividade (Meyerson compartilha da precaução aristotélica e kantiana contra a introspecção), é por meio de uma reflexão sobre os seus produtos, sobre suas encarnações, que ele busca captar o pensamento. Mais exatamente (e essa é uma modificação importante que só permitiu que Meyerson evitasse os erros aos quais, aplicando um método análogo, caíram Aristóteles e Kant) não é em uma de suas encarnações (linguagem, teoria científica, filosófica, etc.) que o pensamento deve ser apreendido, pois nelas já se apresenta de alguma forma petrificado, estático e aparentemente imóvel; mas, por assim dizer, no próprio processo de seu nascimento e de sua morte, em seu devir histórico.
Pois, se a razão é una – e essa é, como sabemos, a hipótese de trabalho tão brilhantemente verificada nos trabalhos do senhor Meyerson – ela deve se apresentar na obra de todos os seus produtos. Nas doutrinas antigas e ultrapassadas, como também nas teorias mais modernas. Na destruição como também na construção. E, para o propósito crítico do filósofo, o estudo das teorias “falsas” é tão instrutivo quanto o das teorias “verdadeiras”, o estudo dos “erros” tão revelador quanto o dos “sucessos”. Pois não é possível distinguir, dentro do próprio pensamento, entre “erro” e “verdade”. Ao menos quando se trata de pensamento real: é o mesmo motivo que o guia – o desejo de compreender – tanto quando “erra” como quando acerta; as teorias erradas e ultrapassadas são produtos da mesma tendência intelectual que as teorias verdadeiras (ao menos aquelas consideradas como verdadeiras hoje). Ora, é em seu exercício real que a razão deve ser estudada. E é somente quando se defronta com dificuldades reais que o pensamento “pensa” verdadeiramente (o pensamento não funciona por tentativa e erro, diz Meyerson), e é somente quando “marcha em câmera lenta”, nessa luta com os problemas reais, que podemos ter esperança de agarrá-lo.
“Marcha em câmera lenta”: expressão empregada pelo próprio senhor Meyerson; ela é tão reveladora do seu pensamento quanto o título do seu livro, que resume admiravelmente a sua doutrina. O pensamento “marcha”. Ele caminha. Ele é em sua essência dinamismo e movimento. Ele caminha – e essa marcha é sua vida – do irracional ao racional, ou, o que dar no mesmo, do diverso ao idêntico, do realismo do senso comum ao acosmismo idealista de Parmênides. Ele vai do “Outro” ao “Mesmo”, e em sua marcha, ao imprimir com violência a forma do “Mesmo” no “Outro”, ele constrói e destrói por sua vez o mundo do senso comum e os mundos – hipostasiados – das ciências e das metafísicas.
A doutrina do senhor Meyerson sobre a razão como destruidora do real, que o reconstrói de forma empobrecida, com o objetivo de “explicar” o diverso pelo idêntico, e, incapaz de dar um passo sem se apoiar no real que abomina, persegue o sonho impossível e absurdo de sua eliminação total (o sonho da dedução global); essa doutrina é bastante conhecida para que seja necessário novamente expô-la aqui. É bastante conhecido como em De l’explication dans les sciences, Hegel – o herói do livro – testemunhou em favor das teses de Identité et Réalité; e como, em Déduction relativiste, o senhor Einstein se encontrou confirmando os ensinamentos de Descartes e Platão. O esquema do senhor Meyerson, aplicado à Teoria da Relatividade, parece servir como uma luva. A teoria do senhor Einstein, ao contrário da opinião corriqueira, foi produto da mesma tendência de explicar e deduzir o real que as tentativas de Descartes, Platão e mesmo – horribile dictu! – Hegel. A Teoria da Relatividade modificou nossa concepção do espaço: ora, o físico relativista, ao menos quando não estava envolvido em filosofia, ainda acreditava “firmemente” na realidade absoluta das “rugas” do seu espaço não-euclidiano.
Porém, as teorias têm a vida curta hoje. E a física relativista – aquela de Einstein – é agora, em conjunto com aquela de Newton, englobada sob o nome comum de “clássica”. A nova física, a mecânica dos quantas, por outro lado, já não parece se encaixar na epistemologia de Meyerson. Seria possível, realmente, manter as principais teses do “causalismo” – realismo necessário e primazia da explicação causal sobre a descrição legal – diante de uma doutrina que, deliberadamente, nega a determinação dos fenómenos intra-atómicos; que rompe definitivamente, ao que parece, com a imaginação espacial ao fazer com que os elétrons orbitem em um espaço (de configuração) de 3 dimensões ou, ainda; conservando a sua realidade, abandona a noção da identidade individual dos elétrons? Não fomos obrigados, frente a essas doutrinas, a adoptar ou a epistemologia positivista ou a epistemologia idealista do senhor Brunschvicg? Além disso, a teoria da unidade da razão não foi colocada em perigo por dois lados ao mesmo tempo: por um lado, pela análise da mentalidade primitiva, “pré-lógica” do senhor Lévy-Bruhl; e, por outro, pela análise do pensamento matemático? Também aqui, o ataque poderia vir de dois lados: por um lado, do logicismo que identifica o pensamento matemático à lógica pura e, essa última, à pura tautologia analítica; e, por outro lado, do senhor Brunschvicg segundo o qual, como bem sabemos, a própria expressão “pensamento lógico” é uma contradição in adjecto. Além disso, se a identidade formava realmente todo o conteúdo do intellectus ipse (um conteúdo muito pobre e vazio!), como é que isso não foi possível de ser notado até agora? E, por outro lado, como poderia uma razão tão absurda explicar criações tão ricas de pensamento?
O senhor Meyerson, poderíamos dizer, responde com um contra-ataque ao acentuar e aprofundar o alcance e a rigidez de sua doutrina. Também os grandes heróis do seu livro são chamados, dessa vez, Antístenes e Kant. Realmente, não só nas grandes teorias explicativas da ciência e da filosofia, mas, até mesmo nos procedimentos mais humildes da vida quotidiana, até mesmo nas proposições mais simples, podemos encontrar, segundo ele, os traços característicos e contraditórios que constituem a essência do pensamento. Em toda parte – tanto no primitivo quanto no físico moderno (e nada é mais curioso ou instrutivo do que a análise paralela do pensamento primitivo e aquele do pensamento ultramoderno, da mecânica dos quantas, a qual realiza o senhor Meyerson) – o pensamento, fiel a si mesmo, segue o caminho contraditório da identificação do diverso e prossegue o sonho absurdo da dedução integral. O famoso índio Bororo que diz ser uma Arara (e que há vinte anos assombra os arredores da filosofia francesa) não quer, obviamente, reivindicar a posse de asas e a capacidade de sentar em um galho; tudo o que quer é dizer que em certos aspectos e em certos pontos de vista – pontos de vista e aspectos, claro, que são extremamente importantes e essenciais, que permitem explicar certas peculiaridades do seu ser e do seu comportamento – ele é um Arara. Mas – de um ponto de vista formal – estamos fazendo outra coisa quando afirmamos a identidade da água com os seus componentes químicos? Claro que não queremos dizer que podemos beber ou tomar banho em hidrogênio com oxigênio. Sabemos que existe uma diferença entre uma mistura de gases e um líquido. Isso é declarado pouco importante, não essencial e, portanto, negligenciável. Afirmamos a identidade parcial, a identidade da essência; o que é feito por sua virtude explicativa.
Gostaríamos que a identidade afirmada – realizada em qualquer julgamento predicativo – fosse absoluta e completa. Gostaríamos que cada julgamento fosse uma identidade; sentimos que, apenas, ao dizer A é A, que compreendemos verdadeiramente e perfeitamente. Pois Antístenes tem toda razão: estritamente falando, não se pode dizer mais nada, e A é B consiste em uma contradição. Mas, por outro lado, é uma contradição necessária, pois, como bem observou Hegel (e, em certo sentido, já Platão), é impensável que haja identidade estrita em que A é A, pois significaria o fim do pensamento. Assim, vemos o que o senhor Meyerson chamou de “o paradoxo epistemológico” em ação nos últimos tramites do pensamento. Todo enunciado, todo julgamento é uma identificação parcial, é um movimento que “imprime a forma do mesmo” no conteúdo rebelde que representa o “outro”. Mas sem esse outro, sem essa diversidade, sem essa contradição, o pensamento permaneceria – ou se tornaria – vazio e pararia. E, portanto, morreria.
Porque o pensamento, mais uma vez, é dinamismo, movimento, progresso, enriquecimento. Além disso, enquanto progride, nunca é, como viu tão bem Kant, puramente analítico, puramente “lógico”. A lógica pura é mera tautologia. E a tautologia é perfeitamente estéril. Por onde o pensamento avance, onde quer que “caminhe”, há – em termos de Kant – síntese; há o não-lógico. Em termos meyersonianos, há um “salto”. Há risco. Há aventura. Há tentativas e erros e perigo.
E é também por isso (como já dissemos) que não podemos prever o que fará o pensamento. Seu objetivo é imutável, mas, para o alcançá-lo, ou, precisamente, para se aproximar, pode seguir caminhos muito diferentes. A identidade parcial, onde encontramos ela? Poderíamos negligenciar esse ou aquele elemento do real? E no muro que o real ergue em frente do pensamento, é aqui ou acolá que vai encontrar a falha, a clivagem que o tornará capaz de avançar? Ninguém sabe de antemão. E é por isso que toda tentativa de lhe prescrever o caminho, enclausurar com um método ou amarrar com regras fixas de um Organon está fadada ao fracasso, sendo, estritamente falando, um contra-senso.
Isso se aplica não somente às “regras” de Mill ou de François Bacon ou aos preceitos lógicos de Bosanquet e Aristóteles, mas, em uma medida bem mais profunda, às teorias dos logicistas[2] modernos. Os logicistas, com efeito, propõe-se um duplo alvo: 1° a dedução analítica de todos os modos possíveis – ou seja, legítimos e logicamente concludentes – de raciocínio; 2° em virtude disso mesmo, a transformação de todo raciocínio em um cálculo analítico, isto é, em uma série de substituições tautológicas de identidades por identidades. Um alvo duplamente, e mesmo triplamente absurdo. O que realmente o logicista procura é a segurança absoluta do raciocínio. No entanto, consegue isso – na medida em que o consegue – apenas à custa do seu próprio progresso. Ele reduz o movimento do pensamento e só consegue progredir graças aos restos de “ilogismos” que ainda não conseguiu eliminar. Assim, cada passo em direção à perfeição lógica, cada novo aperfeiçoamento do simbolismo (que deveria, em princípio, abreviar o raciocínio) traduz-se, na prática, por um prolongamento, por uma multiplicação dos passos intermédios que é preciso transpor para efetuar o raciocínio mais simples. O senhor Meyerson teve o maior prazer em nos apresentar uma série de citações – sabe-se que a citação, o golpe abrupto dado no local certo, é a arma principal e favorita da prodigiosa erudição do senhor Meyerson – nas quais de início anunciam os sucessos futuros, proclamados com grande alarde pelos criadores dos novos métodos simbólicos, desde Jevons e Boole até os senhores Russell e Whitehend. Esses anunciados são acompanhados, é verdade, por críticas não menos estrondosas aos antecessores, para terminar, no fim das contas, as duzentas páginas necessárias para provar que se pode sempre acrescentar uma unidade a um determinado número e a constatação decepcionada do senhor Wittgenstein, na qual afirma que a reforma da lógica culmina na impossibilidade de dizer o que quer que seja. O logicista desemboca em Antístenes. A segurança absoluta torna o movimento impossível.
O erro dos logicistas – do qual o raciocínio do senhor Pádua oferece um exemplo notável – foi não ter visto o carácter sintético, extra-lógico da operação mais simples. 1 + 1 não é dois. Faz dois, como Bradley e Kant já tinham visto.
A aritmética não é puramente lógica. Ela não é “pura”. Trata-se apenas de um compromisso do racional com o irracional; e também podemos encontrar os elementos do real, do dado, lembrando os “calhaus” de J. S. Mill.
Compromisso: eis a regra essencial do pensamento. A razão quer deduzir. Ela só aceita a indução, o dado experimental, na esperança, por assim dizer, de fazê-la apenas temporariamente. Ela acredita que o real é racional; que toda simultaneidade encobre uma ligação causal inteligível, que toda diversidade encobre uma identidade subjacente. Por outro lado, sabe inconscientemente, por assim dizer, que o objetivo que persegue é absurdo, que a diversidade, a mudança, o devir, o múltiplo, o Outro, são as condições essenciais de sua existência, de sua vida. A razão sabe que não pode eliminar completamente nem o acidente e nem tempo. E, parando no meio caminho, fazendo um compromisso, ela fica satisfeita com uma mistura: da pré-existência, do retorno, da coerência dos atributos. Ela sabe, por assim dizer, que “vermelho” e “rosa”, “atenienses” e “Sócrates” nunca serão idênticos. Contudo, quando os liga por meio do julgamento, a razão acredita – ou espera – que entre “vermelho” e “rosa”, entre “ateniense” e “Sócrates” exista uma ligação inteligível e necessária, a mesma ligação necessária que religa – e liga à substância – todos os atributos de qualquer ser. Ora, é essa coerência dos atributos, cuja importância foi tão bem marcada por Cuvier, que desempenha para o pensamento o papel de substituto aceitável da identidade inacessível, um papel análogo àquele da persistência no tempo de um ser, de uma qualidade, de uma hipóstase, em resumo, que desempenha o papel na constituição das leis de conservação.
O espírito se acomoda, o pensamento é feito de compromissos. A razão gostaria de encontrar o idêntico, o inteiramente a priori. Mas não pode alcançá-lo em parte alguma. Ela se acomoda em qualquer lugar. A razão, portanto, só pode alcançar a identidade parcial, em sua luta com a inesgotável riqueza do dado e da realidade. Riqueza inexaurível e fértil, porque só se apoiando no real é que o pensamento – Anteu[3] que só encontra no dado a força que o alimenta – pode progredir em sua luta destrutiva (e construtiva) contra o próprio real. É somente no real que a razão encontra os materiais para as suas construções; é apenas o dado sensível que lhe permite construir os seus conceitos, com os quais, produzindo-os, hipostastizando-os e reintroduzindo-os no real, ela reconstrói ou melhor, constrói o universo. A razão traz apenas a forma. Toda a matéria provém da sensação, do real.
Não nos enganemos mais, não se trata nem de empirismo, nem de idealismo. Não existe tal coisa, diz Meyerson, como a experiência bruta, como imaginam os empiristas ingleses e seus emuladores. Toda experiência já está informada pela razão. O mundo do senso comum já é uma hipóstase, já é um conceito. Nenhuma experiência é feita sobre o concreto. Em sentido estrito, existem apenas experiências de pensamento. Quando contamos as pedras, já estamos no abstrato. São conceitos que contamos, como também é com conceitos que raciocinamos quando falamos de um corpo eletrificado. O corpo eletrificado é uma hipóstase; mas o corpo que manuseamos já é um. Ele já é uma abstração e nunca abandonamos o abstrato, o conceito. É por isso também que podemos ter êxito nessa operação, à primeira vista misteriosa, de reintroduzir no real as concepções abstratas, formadas pelo pensamento, de fazer com que “evoluam essas hipóstases no mesmo instante que o real”: tratar como o real as abstrações matemáticas; alargar e reforçar o domínio próprio do número postulando seja sua continuidade, seja a possibilidade de realizar o inverso das operações anteriormente admitidas; criar, assim, os números irracionais, imaginários, geometrias cada vez mais abstratas e complexas, não-euclidianas, não-pascaliana, não-arquimediana, com qualquer número de dimensões, etc. E até mesmo aplicá-las à física, ou seja, colocá-las no real.
Mas, por outro lado, mesmo nas suas construções mais “extravagantes”, o espírito nunca perde – pelo menos não inteiramente – o contato com o real; o espaço de 36 dimensões não é, certamente, imaginável. No entanto, ele retém – e deve reter – alguma relação com o espaço euclidiano, e até mesmo com o espaço sensível: caso contrário, porque lhe chamaríamos ainda de espaço? A necessidade da imagem é, para o espírito, tão profunda, tão inevitável, quanto a sua tendência para o idêntico. Ela não constitui o pensamento. Ela o suporta e o guia. Testemunhas: Fourier e, no nosso tempo, M. L. de Broglie.
Claro, o pensamento é por vezes forçado a renunciar à imagem. Hoje parece que chegamos nesse ponto: podemos apenas dificilmente imaginar os φ, os ψ e as matrizes da mecânica dos quantas. Ele renuncia (não é a primeira vez que isso lhe acontece), mas com relutância. Tal como é relutante que, por vezes – e mesmo durante bastante tempo –, possa renunciar à explicação causal. Ficando contente com a legalidade. Talvez até mesmo abandonar essa última; ao menos, abandonar a determinação estrita dos fenômenos e se contentar com as leis estáticas. Estas ainda serão compromissos, acomodações; provisórias e durarão… Mas quem pode prever o futuro? Contudo, uma coisa parece certa ao senhor Meyerson: é que no dia (ele virá? Não se pode afirmar; como não se pode negar) quando uma nova teoria der ao físico a possibilidade de refazer uma imagem – por mais abstrata que seja – que permita restabelecer a explicação causal, essa teoria será bem recebida e adotada. Porque a tendência do pensamento não varia. Ele tem uma direção rígida; única coisa que é rígida na doutrina do senhor Meyerson, exceto essa doutrina em si mesma.
Insisto nesse ponto que parece não ter sido compreendido e no qual também é insistido no Cheminement de la pensée. O pensamento é movimento, a razão é tendência. É luta e não quietude. A forma do idêntico com o qual a razão procura imprimir no dado é sempre paralela a ela mesma. Porém, na prática, a razão só consegue se “colar” mais ou menos bem no real, pois se deforma em seu contato; o pensamento real é sempre uma mistura, sempre um compromisso, instável e provisório. Nunca há no pensamento real nem o puramente analítico, nem o puramente a priori. Nem existe síntese pura, nem puramente a posteriori. E menos ainda existe uma síntese pura a priori. Kant estava enganado. Em cada julgamento, mesmo nos julgamentos matemáticos, há elementos do dado. E, por outro lado, em cada julgamento, por mais empírico que seja, há análise, há um elemento formal a priori. Em toda parte do pensamento há mistura do “Mesmo” e do “Outro”, do analítico e do sintético, do a priori e do a posteriori. Kant estava enganado ao atribuir às verdades matemáticas e aos princípios da física uma origem puramente a priori. Nesses últimos, o que é a priori é somente a sua forma: conservação, o padrão do “Mesmo”. É a priori que algo permanece. Mas o que é isso? A experiência é a única que nos pode falar. As leis de conservação, como o senhor Meyerson já tinha reconhecido em Identité et Réalité, são apenas “plausíveis”. Mas Kant viu que essas leis eram da mesma natureza que as leis das matemáticas, e é “puxando na direção oposta à cadeia forjada por Kant” que o senhor Meyerson consegue a extensão e a universalização da sua doutrina.
No seu último livro, o senhor Meyerson se mostrou, muito voluntariamente, um aristotélico. Em Le Cheminement de la pensée defende o estagirita tanto contra os logiscistas como contra M. Brunschvicg. Aristóteles, pensa o senhor Meyerson, estava muito correto ao ver na compreensão dos conceitos – e não na sua extensão – o elemento principal do pensamento. Por outro lado, o logiscista errou ao limitar-se à extensão. Ele não poderia fazer outra coisa, pois confundiu a marcha do pensamento que inventa e a marcha do pensamento que expõe. Duas coisas bastante diferentes e, em certos aspectos, até mesmo conflitantes. E quanto à oposição que o senhor Brunschvicg procura estabelecer entre λόγος e μαθημαπα, discurso e pensamento, o senhor Meyerson dificilmente acredita nisso. A dedução lógica, ele observa, se transforma muitas vezes em dedução matemática, e vice-versa. O género não é uma invenção verbal, vazia de pensamento. Não podemos pensar – mesmo em matemática – sem fazer uso do género. Assim, o senhor Meyerson cita, com plena aprovação, o velho adágio aristotélico-tomista: a existência pertence ao indivíduo, por outro lado, a ciência é sobre o genérico. Assim, ele insiste, sobre o valor e o papel do μαθημαπα.
Isso não significa, certamente, que o senhor Meyerson tenha mudado de opinião sobre o valor científico – nas ciências físicas – do aristotelismo. A física qualitativa tem demonstrado a sua perfeita esterilidade. O empreendimento de Duhem fracassou como o próprio Duhem admitiu. O senhor Meyerson não espera, portanto, grande coisa da tentativa recente do senhor Whitehead. Não há ciência real exceto na medida em que seja quantitativa, matemática, pois é só na matemática, ao que parece, que existe acordo entre o pensamento e o real. Talvez porque o ser matemático é, como pensou Platão, intermediário. Mas esse acordo não é de forma alguma absoluto: todo o real não é matemático; inversamente, o matemático não é, ao menos não inteiramente, real. A dedução lógica revelou-se estéril. Contudo, não podíamos prever isso. E, em física, a dedução puramente matemática – aquela de Platão – também não deu frutos.
É claro: o senhor Meyerson não optou entre Platão e Aristóteles, assim como não optou entre o Bororo e o senhor Dirac. Ele procura utilizá-los como testemunhas; para levar a análise reflexiva e regressiva do pensamento até um ponto em que apareça o seu acordo e onde se explique o seu desacordo. Porque todo o pensamento quando se exerce, dá testemunho de si próprio. E o pensamento é, em toda parte, idêntico em sua estrutura.
Mas se é assim, porque o pensamento, refletindo sobre si mesmo, não reconheceu a sua própria essência? Na verdade, responde Meyerson, ele frequentemente reconheceu, ao menos parcialmente. Mas, tendo visto, ele “virou-se com horror”, não podendo ou não querendo admitir o paradoxo no fundo da razão. E uma série de citações nos mostram como os lógicos, os filósofos, os psicólogos, ora viam o dinamismo, ora o idêntico como o proprium da razão; contudo, hesitavam em admitir o dualismo contraditório do pensamento, o absurdo de sua perseguição pelo imóvel, a tragédia de sua marcha para o nada.
Mas não quero parecer estar querendo resumir o conteúdo do Cheminement de la pensée. Isso seria ao mesmo tempo ridículo e inútil. Ridículo porque não se pode resumir em poucas páginas uma obra tão completa e que tem mais de mil páginas, e inútil, porque um livro do senhor E. Meyerson deve ser lido – e até estudado –, e os leitores do Journal de Psychologie não precisam que lhes digam que encontrarão nele uma mina de informação e um tesouro de ideias.
[1] Publicado em Journal de Psychologie Normale et Pathologique. Paris, 30, n. 5-6, 1933, p. 647-655.
[2] Koyré chama de logistique ou logicismo o projeto filosófico presente nas pesquisas de Frege e Russell de fundar as matemáticas na lógica (N.T).
[3] Na mitologia grega, Anteu era filho de Gaia, deusa da terra. A força do girante era fornecida por estar em contato com o chão, só podendo ser morto após ser suspenso no ar por Hércules. Koyré afirma que o pensamento, assim como Anteu, extrai sua força do real (N.T).